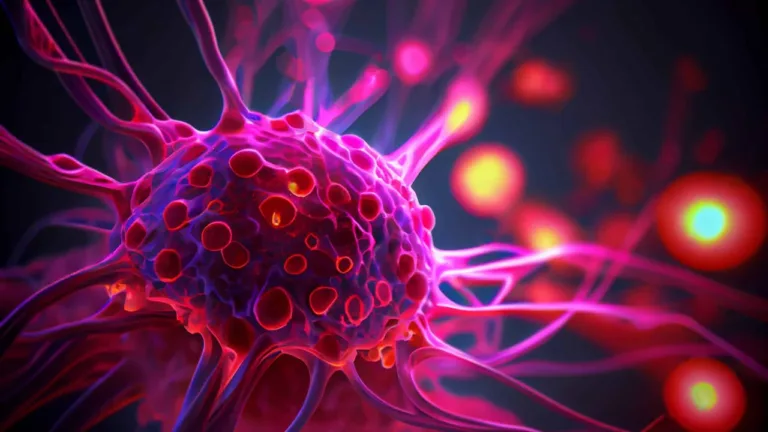João Paulo M. Araujo
Professor no curso de filosofia da UERR
É um clichê a afirmação de que a música faz parte da vida humana como a conhecemos. Você não precisa ser um expert em música para emitir algum juízo de valor sobre uma predileção musical. Por outro lado, para quem ama música, isto é, convive diariamente e conscientemente, seja como um ouvinte inveterado ou como professor, compositor etc., a experiência musical ocupa um lugar de destaque na existência. Nesse sentido, para esses espíritos inveterados, a música pode permear suas experiências até mesmo nos momentos menos aparentemente musicais. É como se para essas pessoas, desde sempre suas vidas tivessem sido embaladas por alguma espécie de trilha sonora.
Mesmo para aquelas pessoas que afirmam ser indiferentes à música, é impossível se esquivar da quantidade de estímulos diários que atravessam nossa audição. Desde anúncios de TV, internet, rádio, passando por trilhas sonoras de filmes, séries, novelas, ou até mesmo pessoas aleatoriamente batucando na rua, assobiando, naqueles carros com um sistema de som que mais serve para poluir o ambiente do que realmente tocar algo, dificilmente nossa indiferença se mantém intacta. Até para dizer que não gostamos de música precisamos ouvir alguma coisa. Nós somos constituídos de um sofisticado aparato sensorial; nossa audição, assim como todos os outros quatro sentidos, é diariamente estimulada por coisas que são preferíveis ou não, e isso torna os mais variados tipos de sons, juntamente com música, algo quase que onipresente.
Dado o caráter histórico da música, é natural pensar que assim como os sons mudam, as músicas também mudam. Quem poderia à época de Frédéric Chopin ouvir uma de suas nocturne ao som de uma guitarra elétrica altamente distorcida? Na verdade, quem sequer imaginaria que poderíamos ouvir muitos desses clássicos sem, no entanto, estarmos diante de uma orquestra ou de um quarteto de pessoas tocando ao vivo para uma grande plateia ou para um seleto grupo de pessoas? O fato é que a música mudou, de suas formas técnicas de reproduções aos novos gêneros musicais, olhar para a música de uma perspectiva histórica é olhar para suas transfigurações. A música mudou, mas não desapareceu.
De um ponto de vista da história das ideias não é apenas a música que mudou, mas também o que os filósofos pensaram dela. Em sua clássica obra A República, Platão teceu algumas considerações sobre a música. A música imitava nossas emoções e virtudes, portanto, isso era de extremo valor para um aperfeiçoamento moral da sociedade. Desde os pitagóricos era conhecida a ideia de que acordes maiores tendem a ser mais alegres e eufóricos, enquanto que acordes menores, de uma natureza mais introspectiva e melancólica. Para além de tonalidades maiores e menores ainda teríamos os modos gregos do qual demandaria um texto inteiro só para falar de cada um deles. Um compositor que dominasse suas combinações em tonalidades e modos poderia incitar qualquer tipo de emoção numa pessoa. Nesse sentido, é natural pensar porque Platão argumentava que algumas formas musicais deveriam ser banidas, afinal, numa sociedade ideal não pode imperar o “tudo vale”. Dessa forma, era função do Filósofo-rei regular estritamente o tipo de música que era tocada na cidade. Nessa sociedade ideal, ficaríamos apenas com os modos dórico e frígio que supostamente eram adequados para guerreiros e homens que trabalham em tempos de paz, pois incitava a coragem e exaltava a alma. Em contrapartida, os modos lídio ou jônico deixavam os homens preguiçosos e isso não era algo preferível. Analogicamente, é como se atribuíssemos muitos dos males de uma sociedade a uma relação causal e comportamental com o tipo de música que as pessoas escutam. Talvez, esta ideia possua, num sentido bem particular, um fundo de verdade.
Saltando agora para o nosso passado séc. XX, algumas das reflexões sobre a música passam de um patamar metafísico para algo pertencente a uma visão que tem como background o materialismo histórico dialético. A figura mais emblemática é sem dúvidas a de Adorno. Além de um influente filósofo da escola de Frankfurt, poucos sabem que Adorno conhecia bastante de teoria musical moderna e isso aliado a uma sólida formação em composição clássica. No entanto, sua perspectiva sobre a música popular é extremamente questionável, sobretudo quanto à ideia de que a música pop contribuiu para o fascismo porque tratava-se de mais um produto da indústria cultural. A música tem o poder de mostrar as contradições da sociedade que a produziu; Adorno usa como exemplo a música atonal e Schoenberg. O sistema musical de Schoenberg, na concepção de Adorno se libertou das limitações existentes seguindo, portanto, uma nova lógica ao invés de tendências da indústria cultural. Tal proposta musical exige bastante concentração para que se possa desfrutar de suas sequências aparentemente sem nexo algum. O problema é que, na atualidade, a música atonal é como um peixe dentro de um pequeno aquário chamado universidade, e as pessoas ali envolvidas se preocupam mais com a forma do que o seu conteúdo. Analogicamente é como se a gramática fosse mais importante do que a língua em si; o que está escrito (partitura) importa muito mais do que aquilo que é ouvido.
Em contrapartida, a música popular como fora mencionada é convertida em mais um produto da indústria cultural. Segundo Adorno, o mérito artístico da música popular era limitado, uma mercadoria que teria o papel de conduzir as massas a um bloco monolítico cujo o fim seria o fascismo. O mais problemático nessa visão é que o jazz era um de seus alvos. Em seu texto O fetichismo na música e a regressão da audição (1963), poderíamos enumerar uma série de adjetivos negativos que Adorno confere ao jazz. De “música infantil”, “horrível de se ouvir” a “tocadores incapazes de ler as notas musicais”, tudo conflui para a ideia de que no fundo o jazz não passa de música para dançar. Esse juízo convicto e justificado acerca do jazz não passou despercebido por outros autores. O texto de Adorno acima citado ainda pode nos ajudar a pensar a música de massa contemporânea em nosso séc. XXI, é possível extrair boas lições de suas reflexões, mas especificamente com relação ao jazz, Adorno se revelou extremamente superficial, racista e eurocêntrico. Foi Eric Hobsbawm que se referiu ao seu escrito como “algumas das páginas mais estúpidas já escritas sobre o jazz”. O ponto é que Adorno não mudou sua opinião sobre o jazz e continuou criticando-o até morrer em 1969; mesmo quando o jazz ganha o status de cult na segunda metade dos anos sessenta. Além do jazz, outros gêneros musicais como o rock e mais especificamente, os Beatles, entraram em sua amarga lista. E com relação aos Beatles, até hoje fico imaginando de onde surgiu a referência de Olavo de Carvalho de que foi Adorno que compôs a maior parte das músicas dos Beatles. Como seria isso possível? Curioso, não?
De toda forma, o papel exercido por Adorno em suas reflexões sobre música, política e sociedade, pode ser entendido como o papel do filósofo-rei de Platão, de salvaguardar apenas aqueles gêneros que não fossem nocivos para sociedade como um todo. É claro que não há um pano de fundo metafísico na concepção de Adorno, mas há um caráter vanguardista de conservar valores estéticos que contradizem a própria dinâmica de seu materialismo histórico. Os papéis musicais mudam com o tempo. Da metafísica pitagórica à música devocional, da música como arte erudita à música popular ou de protesto, tudo passa e se transfigura como num caleidoscópio. De um ponto de vista filosófico, compreender a música e as experiências musicais, significa compreendê-la em parte, historicamente, isto é, como produtos complexos de algo novo, assimilado, regredido e decadente. E por outro lado, a música ocupa um espaço conceitual, não isolado de tudo, mas nos intervalos de um enorme conjunto de outras preocupações em que, ao mesmo tempo que condiciona é condicionada no processo inerente ao seu próprio modo de ser.