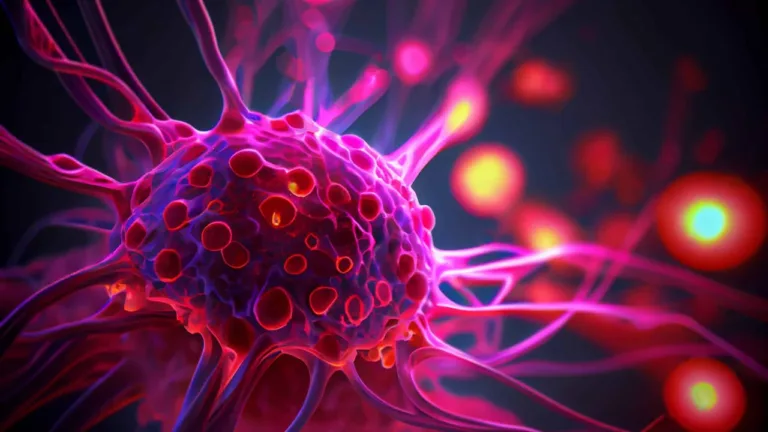Sebastião Pereira do Nascimento*
Olhando pela janela do tempo, vejo a amazônia em chama. Em lugar de ver o lençol verde sobre a copa da floresta, vejo imensos enclaves abertos e o solo desnudo irradiando o calor intenso. Olhando para o passado, vejo a amazônia sendo espoliada por aventureiros que trazem propostas ilusórias, como a criação da hileia amazônica. Vejo também a ferrovia Madeira-mamoré (a ferrovia do diabo), rasgando o coração da amazônia. Vejo a Serra do Navio sendo explorada (e exaurida) além de sua capacidade mineral. Na Serra Pelada, vejo centenas de homens (semimortos) privados de juízo e de civilidade, quando o ouro era a única razão de viver. Vejo a floresta devorada por improdutivos projetos: Jarí e Fordlândia. E a mesma floresta convertida em pastagens (vazias) e estradas lamacentas ou, porque não dizer: sangrentas.
Olhando mais, vejo os rios, antes caudalosos, expondo seus leitos secos. Vejo suas águas barrentas, trazendo resíduos tóxicos dos garimpos e do agronegócio. Sobre os animais, vejo milhares de peixes mortos e outros tantos contaminados pelo mercúrio. Vejo o uirapuru sem forças para cantar. Não vejo nenhum sabiá na palmeira. Aliás, não vejo as palmeiras! Pelas manhãs, não ouvi o grunhido das araras, das maracanãs, dos papagaios, dos tucanos… Também não ouvi o canto do capitão-da-mata. Não vejo os macacos fazendo suas estripulias sobre os galhos das árvores. Não vejo nenhum roedor disseminando sementes no solo fértil — a propósito, não vejo mais solo fértil. O que vejo agora são as últimas tartarugas da amazônia, capturadas pela pesca ilegal, predestinadas ao regalo de pessoas medíocres da vida urbana.
Sobre as árvores, vejo a última sumaúma, o último jatobá, o último angelim, o último pau d’arco… Todos resumidos em toras e pranchas para o regozijo dos madeireiros. Vejo também fazendeiros, garimpeiros, madeireiros e grileiros usurpando e/ou assassinando o povo da floresta. Vejo muitos Chicos (Mendes), alvos de espreitas, mortos apenas por defender o que faz parte de si por natureza. Vejo homens piratas se apropriando (de forma ilícita) dos recursos naturais e do conhecimento tradicional dos povos amazônidas. Vejo homens de terno negociando a amazônia, algo que não lhes pertence.
Da janela do tempo, vejo o pantanal consumido pela sequidão e queimado pelo fogo avassalador. Perante a paisagem exaurida, vejo as onças (pintada e suçuarana) miando como um gato indefeso e faminto, quando se esperava delas mais do que um esturro. Vejo o tuiuiú cabisbaixo, sem forças para seu voo matinal, assim como as garças, antes esbeltas e esvoaçantes, agora debilitadas. Vejo as marrecas cantando triste seu canto de liberdade. Vejo as capivaras, as ariranhas, os jacarés mergulhados na lama, o último resquício do pântano. Olhando mais, vejo a chegada do sol sem o som do berrante. Vejo a última comitiva sem destino certo. Vejo o gado espalhado sem rumo, quando seus guias já não podem o conduzir. Foram consumidos pelo “progresso”. O progresso que também parou a chalana num porto incerto e calou o pantaneiro que, tocando a boiada, rezava solenemente suas rezas cantadas. Agora, vejo que faz dos dias momentos amargos, e das lembranças, a saudade: do velho pantanal.
Olhando pela mesma janela, vejo o cerrado central atacado por frotas de máquinas que devastam os campos e as veredas cerradinas. Da janela, vejo a paisagem do cerrado sucumbida pelo pastoreio excessivo. Vejo o grande sertão vereda ofuscado pelo pó da terra seca que sobe aos céus sob a forma de espessas nuvens, assim como as nuvens da fumaça do fogo indiscriminado. Vejo também os kalungas da Chapada dos Veadeiros, abatidos pelo avanço das monoculturas de eucalipto, de cana, de soja, de milho… Vejo a expropriação dos pequenos agricultores pelos latifundiários. Vejo os geraizeiros desterrados de suas terras tradicionais. Vejo a melancolia dos apanhadores de flores sempre-vivas: os guardiões das sementes do cerrado. Vejo os rios, os regatos e as nascentes assoreados, envenenados pelo despejo massivo de insumos químicos. Vejo, além da vegetação, os animais do cerrado sendo exterminados pelo avanço das máquinas. Vejo o lobo-guará desorientado com a destruição do seu habitat, enquanto a lobeira e o araticum já não saciam mais sua fome — também já não existem a lobeira e o araticum.
Olhando a caatinga, vejo a “mata branca” ignorada pelos homens “civilizados”, os quais, à revelia do sertanejo, falavam que o território existente para além do litoral, era impróprio para se viver caso não alterasse inteiramente sua natureza. Assim, vejo o semiárido desfigurado e cheio de conflitos (agrários e sociais) alimentados pelos “coronéis de barranco”. Vejo o sertão sendo convertido em canaviais e a mata transformada em lenha e carvão. Vejo também o sertão sendo consumido pela monocultura desenfreada, quando o braseiro e a fornalha se intensificam pela ausência da vegetação nativa. Vejo a caatinga, no tempo presente, tomada pelos imensos parques eólicos, alterando a paisagem nativa. Vejo o agreste nordestino colapsado de modo análogo à zona da mata. Em face disso, a fauna sertaneja ruiu. Não vejo mais a asa-branca, não ouvi a gralha da arara-azul; não vejo o veado-catingueiro e até o mocó já não posso ver. Também não vejo sobre o solo estéril: o umbuzeiro, a macambira, o juazeiro, o xiquexique, o mandacaru…
Olhando pela janela do tempo, vejo a mata atlântica sendo dizimada com a chegada dos colonizadores. Diante disso, vejo o pau-brasil exaurido pela ganância do homem. Vejo as grandes plantações de cana, de café, de cacau: práticas agrícolas que deram origem à destruição da mata atlântica. Além dessa tragédia, vejo a sanha incontrolável dos mineradores pelo ouro e pelo diamante. Vejo tanto sangue derramado. Vejo tribos indígenas sendo exterminadas e, sob o mando dos coronéis, negros chicoteados e corpos estirados nas senzalas. Vejo negras estupradas nas alcovas. Vejo infindas espécies da fauna e da flora a caminho da extinção. Vejo na porção sul da mata atlântica a araucária sendo transformada em peças de madeira para móveis e construção civil. Além disso, vejo no processo de agropecuarização, industrialização e urbanização (das grandes cidades) o legado deixado à natureza: fragmentos ínfimos da mata atlântica ao longo do seu tamanho.
Olhando do alto das coxilhas, vejo o pampa com sua ocupação desregrada que aguça a degradação ambiental. Vejo as maléficas práticas agrosilvipastoris que suscitam o desaparecimento da flora, da fauna e desequilibra todo o ecossistema. Vejo os campos sulinos convertidos em áreas estéreis para atividades agrícolas e florestas de eucalipto. Vejo a supressão dos capões e o assoreamento dos arroios, dos banhados, dos rios… Vejo a monocultura intensiva ignorar a vocação original dos campos nativos que têm a pecuária extensiva (bovinos e ovinos) como atividade menos letal, ainda que seja impactante o sobrepastejo. Vejo a continuada destruição da vida silvestre que pode levar à extinção dos campos sulinos já nas próximas décadas. Vejo ainda que essa destruição não afeta somente a biodiversidade local, mas também o próprio imaginário cultural do povo do sul. Mais recentemente, vejo que todos esses desarranjos ambientais terminaram por refletir na desastrosa realidade que se encontra hoje a região dos pampas.
Assim, a partir da janela do tempo, vejo que a relação entre seres humanos e natureza parece que sempre se deu de forma insensível e desigual. A impressão que se tem é que a exploração predatória e perdulária dos recursos naturais sempre fez parte da história do homem. O qual, muitas vezes, quando se refere à natureza, ele sempre se ocupa em se excluir dela. O homem se esquece de que também é parte da natureza. Portanto, quando faz mal ao mundo natural, também faz mal a si próprio e a toda a humanidade. Ademais, é esdrúxulo ver o tamanho do desprezo e da distância que o ser humano guarda da natureza, pois mesmo se utilizando dela e sendo ele um elemento próprio da natureza, ele não se faz pertencer a ela.
*Consultor ambiental, filósofo e escritor.